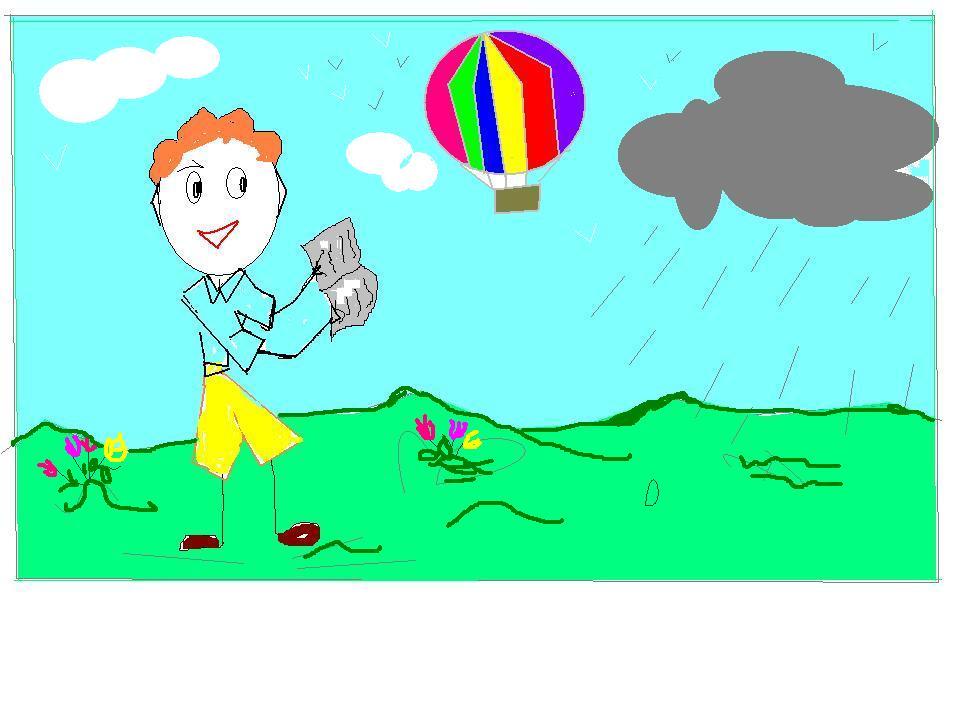Leni David
Não importa. O essencial é que ele foi e continua sendo o “Tio Pifânio”, rei negro das crianças daquela rua, o maior contador de histórias da cidade!
– Chega negrada!!! Era um apelo estridente e alegre acompanhado de uma gargalhada. Todos corriam na direção do grito, até mesmo as empregadas e as crianças da vizinhança. E como era bom correr, com todas as forças para chegar em primeiro lugar e receber como recompensa, um bago de jaca, um punhado de amendoim e um pedaço de rapadura; quanta folia, risos e algazarras Epifânio trazia para nós. Como era bom e como sinto saudades daquele tempo!
Éramos dez irmãos e a nossa meninice corria mansa e despreocupada. Espalhávamos alegria pelo quintal, espaço de liberdade, de alegria, de gangorras, “minas” e esconderijos; as pessoas mais velhas se contentavam em nos observar de longe e nem nos dávamos conta de que haviam olhos voltados para nós. Jogávamos castanha, bolas de gude, pulávamos macaco e fazíamos “cozidos” nos dias de feira. Mas todo esse mundo encantado era esquecido quando Epifânio chegava no portão da casa grande da rua da Aurora e nos chamava, com toda a força dos seus pulmões: “chega negrada!”
Não havia quem resistisse àquele chamado. Sabíamos que na segunda-feira, dia da feira-livre da cidade, ele recebia o pagamento da semana e a qualquer momento chegaria sorrindo, falando alto, repartindo delícias que trazia escondidas nos bolsos do paletó e no bocapiu de palha, entre risos e tropeços, numa grande algazarra.
Lembro-me dele como se ainda estivesse aqui, diante de mim; tinha estatura média, era negro, bem negro, olhos pequenos e sorridentes; os cabelos encarapinhados, cortados bem curtos, já estavam matizados de fios brancos, mas não escondiam o seu ar bonachão e maroto. Quando falava, tinha um jeito de virar o rosto para o lado, levantar o chapéu e sorrir, coçando a cabeça, sempre exagerando no tom da voz e das gargalhadas sonoras. Usava calças pretas, de “casimira”, calças velhas e desbotadas, que deviam ter pertencido ao meu avô; um velho paletó, seu companheiro no inverno e no verão e um velho chapéu de baeta amarrotado. Epifânio não resistia a uma “cachacinha” e a um “trielétrico”. Bebia e dançava durante os três dias da Micareta e, na quarta-feira, acordava queixando-se de dor nos rins e no fígado. Ele era analfabeto; jamais lhe ensinaram a ler e a escrever. Porém, apesar de não ser eleitor, participava ativamente das as campanhas politicas, discutindo e argumentando com seriedade, defendendo os seus candidatos.
Epifânio se dizia irmão do meu avô; irmão de leite. A sua mãe, que era escrava, amamentara os dois; então, Epifânio “exigia” que o chamássemos de tio. Meu avô e ele foram criados juntos na fazenda e cresceram amigos, mas com destinos diferentes. Mesmo a casa onde morava, não lhe pertencia. Sabia trabalhar e fazia tudo que lhe ordenavam: cavava fontes, lavava automóveis, era ajudante de pedreiro, carregador, e nos fins de semana trabalhava na roça, plantando milho e feijão. Entretanto, a sua grande especialidade era contar casos, lindas histórias que enfeitaram as nossas vidas de crianças. Ele fechava os olhos e as palavras brotavam da sua boca como riacho correndo. Nós, o seu auditório, permanecíamos imóveis, quase sem respirar, bebendo as palavras como se fossem uma poção mágica. Escutávamos as histórias de Tristão e Isolda, dos Cavaleiros da Távola Redonda, além das lendas da Gurunga, que só ele conhecia, além das histórias de assombração. Quando ficava cansado, levantava alvoroçado e recitava em voz alta:
« Era um dia,
um dia foi,
quem não tem cavalo
monta no boi…
Entrou por uma porta,
saiu pela outra
quem quiser,
que conte outra… »
E saía correndo, a meninada acompanhando e pedindo mais uma historinha, uma só, bem pequena!
Epifânio gostava de pedir dinheiro emprestado à minha mãe e aos meus tios, quantias insignificantes; mas, quando fazia o pedido, assumia um ar sério e se comportava como se fosse uma grande soma, fazendo questão de garantir que pagaria na segunda-feira, mas nunca mais lembrava de pagar!
Ele acompanhava todos os enterros da cidade; o chapéu entre as mãos, cabisbaixo, contrito e muito sério; e descrevia com todos os detalhes o enterro dos ricos, “uma das coisas mais bonitas de se ver”, na sua opinião.
Ele não estava muito velho, mas havia adoecido. Não fazia mais trabalhos pesados; ia fazer compras para a minha avó e acompanhava meu avô nas viagens à fazenda. Depois de algum tempo passou até a morar em casa deles.
Uma das coisas que mais gostava de dizer é que tinha dois nomes: Epifânio Nunes da Silva e Manuel Nunes dos Reis. Dizia que o verdadeiro nome era Manuel Nunes dos Reis, pois havia nascido no dia da festa de Reis; no entanto, no dia do batizado, a sua madrinha resolvera chamá-lo Epifânio por ser o dia da festa da Epifania.
Contava também que aos 20 anos comera meia lata de veneno, utilizado para matar formigas e fatal se ingerido pelo homem. Mas ele, apesar disso, escapara. E quando perguntávamos porque havia agido assim, respondia que fizera isso, pois não queria casar-se com Brite (seu verdadeiro nome é Balbina). Segundo ele, alguém já havia “bulido” com ela antes dele e que D. Pombinha, que era decidida e corajosa, fora buscá-lo em São José das Itapororocas para casá-lo num prazo de 24 horas. Como não queria casar, comeu veneno; como não morreu, casou-se. Contam que o veneno foi expelido pelos poros. Brite e Epifânio viveram juntos e brigaram até pouco tempo. Dessa união nasceram sete filhos: Jove, Crispim, Tenô, Cristino, Jodita, Vadin e Maro. Era como os chamava.
Hoje, escrevendo, sinto uma grande saudade de você, tio Pifânio, uma saudade daquelas que doem, que maltratam, daquelas que fazem a gente sofrer. Você foi embora, tio Pifânio, de mansinho, sem pedir licença, sem fazer barulho. Você fez isso enquanto todos dormiam. Você não gostava de despedidas…
As nossas crianças, tio Pifânio, vão crescer sem ouvir as suas histórias. Os nossos meninos e meninas precisavam ainda aprender a comer bagos de jaca e punhados de amendoim torrado misturados com rapadura. Você precisava, ainda, espalhar a felicidade entre eles e enfeitar as suas meninices com o seu amor!
Sabe tio Pifânio, no dia do seu sepultamento lembrei daquelas coisas que você sempre dizia: “Eu já tenho a roupa do meu enterro; foi Carlito quem me deu. sei que pro mosulé eu num vô, lá é lugar de rico; mas eu sei que vocês, cada um, vai levá uma flor pra minha cova e que vão pedi pra Jesus, pra me arranjá um lugazino bom perto dele; vocês sabia qui prece de criança Deus escuta?”
Você achava bonito os enterros dos ricos e fizeram um parecido para você, tio Pifânio, « com coroa e caixão envernizado, da moda » como você gostava de dizer. O mausoléo Pifânio, que você ajudou a construir com o suor do seu rosto, hoje serve de berço para os seus ossos e você nem queria ir prá lá… Você pedia para enfeitarmos a sua sepultura com flores e nós lhe escutamos; e pusemos lá, não só os bouquets viçosos de saudades, flores liláses e tristes, testemunho do sentimento de quem fica, mas também os nossos corações de crianças.
Sabe por que, tio Pifânio? Porque prece de criança Deus escuta e atende e eu, cresci muito e esqueci muitas coisas importantes.
Adeus, meu velho, descanse em paz!
Feira, 02/05/71